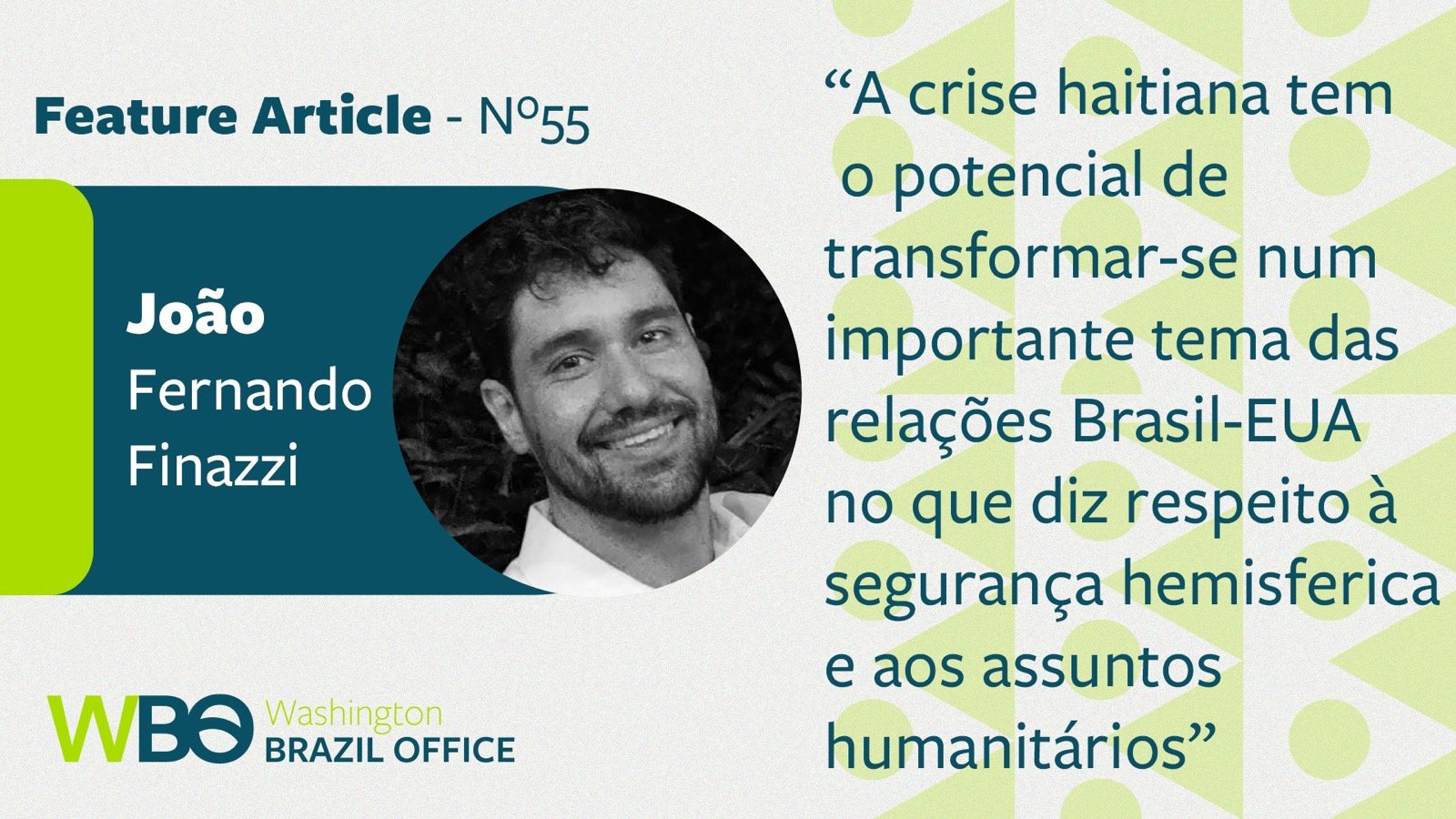A crise haitiana e o impasse internacional
João Fernando Finazzi é doutor em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP) e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU) e do Grupo de Estudos em Conflitos Internacionais (GECI/PUC-SP). Este texto foi escrito por ela originalmente para a edição 55 do Boletim Informativo Semanal do WBO do dia 24 de fevereiro de 2023. Para acessar e assinar o boletim semanal do WBO em inglês basta inserir seu e-mail no formulário no rodapé deste artigo
“O Brasil está de volta ao cenário global”. Essa é a principal mensagem que o presidente Lula levou em suas visitas aos Estados Unidos, Uruguai e Argentina. Combater as mudanças climáticas e a fome no mundo, defender a democracia e acabar com a guerra na Ucrânia e outras localidades são provavelmente os principais desafios que temos pela frente. Mas nessa busca contemporânea por uma maior presença internacional do Brasil, a crise haitiana, pela história e pelo espaço, também pode receber consideração apropriada.
Com velocidade surpreendente, assistimos a uma profunda deterioração da situação humanitária, política e de segurança no Haiti. A fome e a violência armada das gangues urbanas em disputa por territórios se intensificam, principalmente na capital, Porto Príncipe, onde segundo dados da ONU esses grupos controlam cerca de 60% da cidade. O sistema político do país encontra-se em ruínas, sem uma única alta autoridade eleita no cargo.
A crise haitiana tem potencial para se tornar um tema importante nas relações Brasil-Estados Unidos no que diz respeito à segurança hemisférica e a assuntos humanitários. No entanto, a perspectiva de uma intervenção militar internacional encontra fortes resistências no Haiti e internacionalmente.
“Para o Brasil, o engajamento militar no Haiti é reconhecido por algumas lideranças como um erro. Ele empoderou e legitimou vários militares de alta patente que, posteriormente, passaram a atuar cada vez mais na política, chegando a apoiar e constituir o governo de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro.”
Desde outubro, o primeiro-ministro de fato do Haiti, Ariel Henry, aguarda uma intervenção estrangeira. Henry solicitou formalmente à comunidade internacional e reforçou o convite durante a cúpula da CELAC na Argentina em janeiro passado. Mas a posição dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e dos países do hemisfério ocidental a esse respeito não é uniforme.
Ainda em outubro, o México e os Estados Unidos apresentaram ao Conselho uma resolução sobre a criação de uma força internacional para intervir no Haiti nos termos do capítulo VII da Carta da ONU, mas, apesar do apoio da França e do Reino Unido, a Rússia e a China resistiram, e o resolução foi suspensa. Mas mesmo que a barreira política seja ultrapassada e uma posição multilateral para aprovação seja formada, os problemas operacionais permanecem. Os EUA atualmente não estão dispostos a enviar muitas tropas ou liderar o aspecto militar do engajamento, e o Canadá, outro forte candidato para conduzir a missão, já deu sinais de que prefere manter o regime de sanções a mobilizar os militares.
Naquele mês, Celso Amorim, Aloizio Mercadante e outras lideranças latino-americanas relevantes assinaram uma enfática declaração do Grupo de Puebla criticando a proposta de intervenção. No texto, o agora assessor de Relações Exteriores de Lula e novo presidente do BNDES reconheceu o papel que as frequentes ingerências estrangeiras no Haiti tiveram na recorrência de crises que se abateram sobre o país caribenho, e considerou urgente buscar formas alternativas de engajamento.
A última intervenção militar estrangeira ocorrida no Haiti foi em 2004, quando Estados Unidos, França, Canadá e Chile enviaram tropas em uma ação autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU para conter o crescimento da violência armada após o golpe que retirou o presidente Jean-Bertrand Aristide. Em seguida, os militares da coalizão foram substituídos pela Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), missão militarmente comandada pelo Brasil – país que tebe o comandante da força e que foi também o maior contribuinte de tropas.
Os legados da missão, que durou até 2017, são no mínimo problemáticos. Considerá-los é algo que nos ajuda a entender as frequentes resistências manifestadas por setores da sociedade civil haitiana e internacional. A MINUSTAH não conseguiu construir as bases para evitar a recorrência da instabilidade política e social, dos conflitos entre grupos armados e da crise humanitária. A Polícia Nacional do Haiti, treinada com a ajuda da comunidade internacional, notadamente dos Estados Unidos, desde meados da década de 1990, ainda não consegue conter as atividades desses grupos armados. Também há muitos relatos de casos de violência e violações de direitos humanos cometidos por forças de paz da ONU, como uso excessivo da força e crimes sexuais. Os capacetes azuis também são acusados de causar a epidemia de cólera que assola o país.
Para o Brasil, o engajamento militar no Haiti é reconhecido por algumas lideranças como um erro. Ele empoderou e legitimou vários militares de alta patente que, posteriormente, passaram a atuar cada vez mais na política, chegando a apoiar e constituir o governo de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, as mesmas táticas de engajamento violento e violador de direitos foram colocadas em prática nas favelas de Porto Príncipe e do Rio de Janeiro, levantando críticas de movimentos sociais contra a MINUSTAH.
A crise no Haiti afeta a política interna do Brasil de forma menos significativa do que a dos Estados Unidos, especialmente se considerarmos as políticas migratórias, o combate ao crime organizado transnacional e a dinâmica eleitoral na Flórida. No entanto, é preciso considerar a posição de retorno do Brasil à atuação regional na América Latina e Caribe, destacada por Lula durante seu discurso na CELAC. Mesmo que o Brasil pareça não estar disposto a atuar como líder militar de uma intervenção internacional no Haiti, o país não deixará de delinear formas alternativas de atuação e contribuição. Na Declaração de Buenos Aires de 24 de janeiro, os países da CELAC, incluindo o Brasil, encorajaram seus membros a considerar a possibilidade de realizar uma intervenção no Haiti. Essa posição, embora coletiva, também pode indicar uma ligeira mudança no governo Lula se colocada contra o tom e o conteúdo da carta do Grupo Puebla acima mencionada. Mas manifesta uma importante continuação da posição da diplomacia do Itamaraty desde 2022.