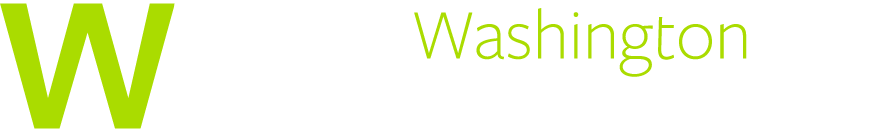A demarcação de terras indígenas no contexto do marco temporal
Por Eloísa Machado de Almeida*
Entre avanços e retrocessos nos últimos anos, a demarcação de terras indígenas tem encontrado grandes desafios no âmbito nacional em razão da tese do marco temporal. Nesse contexto, as instâncias internacionais têm sido essenciais para relembrar o Brasil de seus compromissos com os povos indígenas.
A Constituição brasileira de 1988 reconheceu aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e impôs à União o dever demarcá-las e protegê-las. Ainda que a Constituição tenha previsto um prazo de 5 anos para a conclusão de todos os processos de demarcação de terras indígenas, passaram-se 37 anos e centenas de terras indígenas aguardam demarcação.
Desde a Constituição de 1988, foram vistos e avanços e retrocessos na demarcação de terras indígenas, com governos que demarcaram mais ou menos terras. Apenas entre 2016 e 2022, período que compreende os governos dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, nenhuma terra indígena foi demarcada.
O mesmo movimento de avanços e retrocessos pode ser visto no judiciário brasileiro, com períodos nos quais a interpretação sobre a demarcação de terras indígenas avançou e retrocedeu. A questão sobre o marco temporal exemplifica bem esse movimento.
A tese do marco temporal afirma que os direitos originários sobre as terras apenas seriam reconhecidos aos povos indígenas que as estivessem ocupando na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Ainda que esta tese seja juridicamente bastante frágil, ela está no cerne sobre as disputas que afetam as demarcações de terras indígenas no judiciário brasileiro.
Este argumento relativo ao marco temporal apareceu pela primeira vez no julgamento que a corte constitucional brasileira, o Supremo Tribunal Federal, fez em 2009 sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A menção, na decisão, de que a Constituição teria trabalhado com “a data da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) – como insubstituível referencial para o dado da ocupação”[1] estimulou uma onda de litígios contestando terras já demarcadas e em processo de demarcação.
Um desses casos chegou novamente ao Supremo Tribunal Federal em 2016, valendo-se da tese do marco temporal para questionar o território tradicional do povo Xokleng, em Santa Catarina. Julgado com repercussão geral em 2023, capaz de conferir efeitos vinculantes a todo judiciário, definiu-se que “a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988”[2].
Menos de um mês após o julgamento do caso pelo Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.701/2023, contrariando diretamente a decisão do tribunal e prevendo em lei o marco temporal para demarcação de terras indígenas.
A lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal e, não obstante o recente julgamento sobre o tema, ao invés de uma decisão, instaurou-se uma conciliação forçada, na qual os povos indígenas são minoria. No âmbito dessa conciliação está sendo gestado um projeto diminui significativamente a proteção constitucional aos direitos indígenas.
Ainda que a questão do marco temporal tenha fortes contornos constitucionais e, portanto, nacionais, a disputa sobre as regras de demarcação das terras indígenas foi levada às instâncias internacionais, seja para o sistema interamericano, para o sistema global ou para jurisdição penal internacional, por diversos motivos: pelo descumprimento das regras internacionais de consentimento livre, prévio e informado, pela possibilidade de incremento da violência contra os povos indígenas e seus territórios diante da insegurança jurídica das demarcações e pelo impacto climático que pode causar.
No âmbito do sistema global, os relatores especiais da ONU sobre o Direito Humano a um Meio Ambiente Limpo, Saudável e Sustentável, sobre Mudanças Climáticas e sobre tóxicos e direitos humanos expressaram “profunda preocupação” com os rumos da conciliação no Supremo Tribunal Federal, instando as “autoridades brasileiras a suspenderem essas medidas regressivas, que, em última análise, priorizam os interesses econômicos e políticos de poucos em detrimento da proteção ambiental e dos direitos humanos em benefício de todos”[3].
Já no sistema interamericano, a inadequação da tese do marco temporal aos parâmetros internacionais foi objeto de comunicados de imprensa afirmando que “a aplicação dessa tese contraria os padrões universais e interamericanos de direitos humanos, colocando em risco a própria existência dos povos indígenas e tribais no país”[4].
CIDH e ONU se pronunciaram conjuntamente para condenar a violência contra os povos indígenas, afirmando que a “onda de violência é agravada pelo lento progresso na demarcação das terras indígenas e pela contínua insegurança jurídica”[5] em razão da persistência da tese do marco temporal. Casos de violência e ameaças contra os povos indígenas no Brasil foram objeto de medidas cautelares e provisionais durante os últimos anos, como Munduruku, Ye`kwana, Yanomami, Pataxó Hã-Hã-Hãe e Tapeba.
Em comunicados enviados à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, a tese do marco temporal é descrita como uma estratégia central de enfraquecimento dos territórios indígenas, necessária para a implementação de uma política anti-indígena que pode levar ao extermínio e destruição dos povos indígenas do Brasil.
No atual cenário, em que parece haver um alinhamento entre legislativo e judiciário em ações que buscam enfraquecer dos direitos indígenas, as instâncias internacionais se tornam ainda mais necessárias para relembrar o Brasil de seus compromissos com os povos indígenas.
[1] STF, Pleno, Pet. 3388, relator Carlos Britto, j. 19.03.2009.
[2] STF, Pleno, RE 1017365, relator Edson Fachin, j. 27.09.2023.
[3] Declaração das Relatoras Especiais da ONU sobre o Direito Humano a um Meio Ambiente Limpo, Saudável e Sustentável, sobre Mudanças Climáticas e sobre Tóxicos e Direitos Humanos em relação a possíveis retrocessos dos direitos indígenas e ambientais no Brasil de 25 de fevereiro de 2025.
[4] CIDH, comunicado de imprensa 103/2023.
[5] CIDH, comunicado de imprensa 252/2024.
*Eloísa Machado de Almeida é mestre, doutora, advogada em direitos humanos e professora da FGV Direito SP.
Este artigo foi escrito para a edição 162 do boletim do WBO, de 18 de abril de 2025. Para ser assinante e receber gratuitamente, toda semana, notícias e análises como esta, basta inserir seu e-mail no campo indicado.