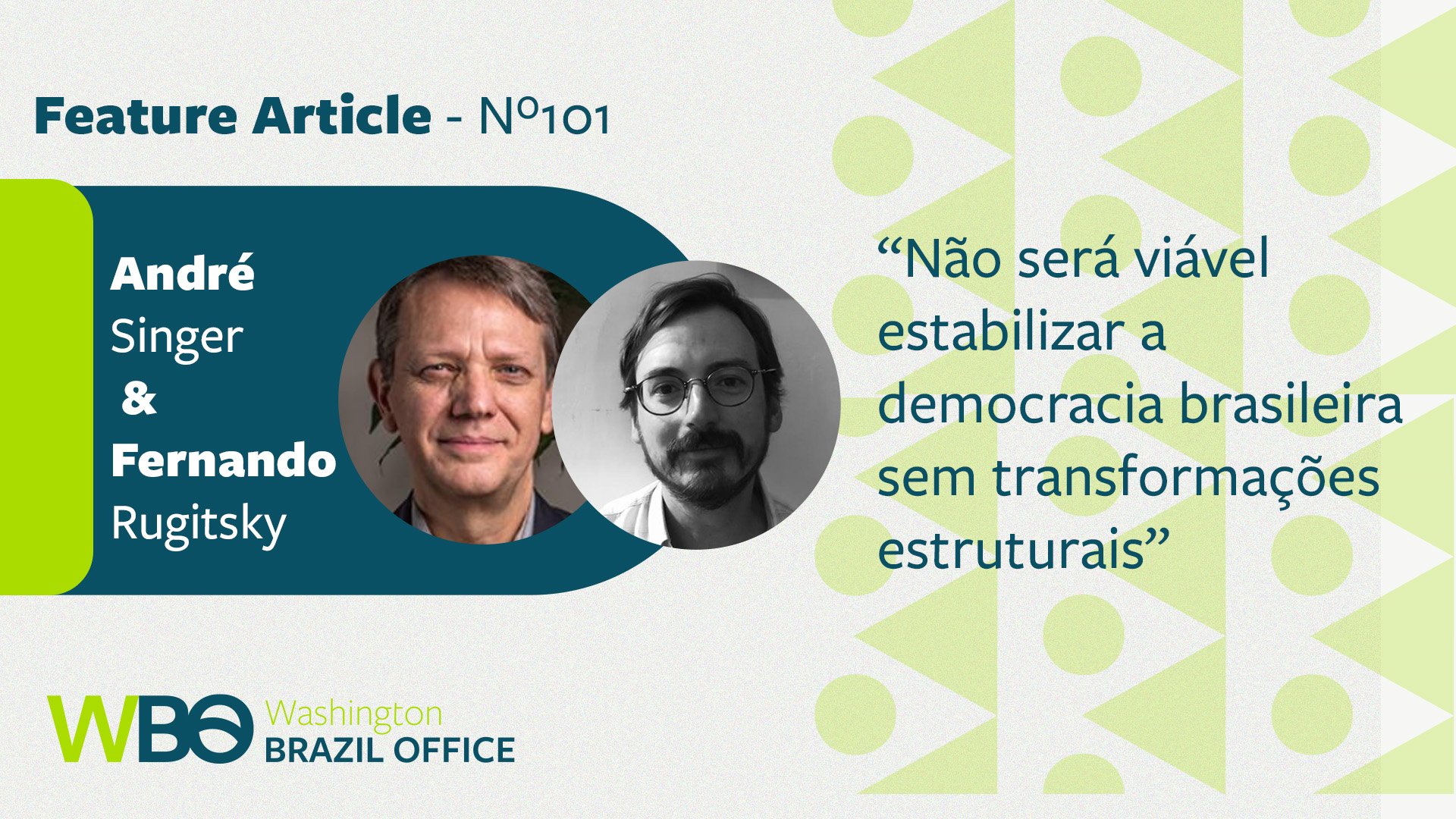Lulismo em câmara lenta
André Singer é professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e autor, entre outros livros, de O lulismo em crise (2018). Fernando Rugitsky é professor de Economia da University of West of England Bristol, e codiretor do Bristol Research in Economics. O artigo foi publicado originalmente em português, em 19 de dezembro de 2023, no site A Terra é Redonda e, em inglês, em 8 de janeiro de 2024, na Sidecar, antes de ser incluído na edição 101 do boletim semanal do WBO, distribuído em 26 de janeiro de 2024. Para assinar o boletim do WBO e receber semanalmente artigos como este, insira seu e-mail no campo abaixo.
Transcorrido um ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre avaliar a estratégia adotada diante do confronto das classes, bem como imaginar os desdobramentos que anuncia. Após ter vencido à frente de um heterogêneo ajuntamento de salvação democrática, o presidente decidiu entoar a melodia lulista clássica: fazer, no atacado, concessões à burguesia e, no varejo, buscar as brechas por meio das quais consiga beneficiar, em alguma medida, os segmentos populares. Só que o tema vem se desenvolvendo em andamento lentíssimo, tornando duvidosos os movimentos previstos para os períodos eleitorais de 2024 e 2026.
Quando assumiu a Presidência duas décadas atrás, a combinação de pacto conservador e reforma gradativa soou desconcertante e inovadora. Em vez de romper com o legado neoliberal de seu antecessor no cargo, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), rejeitado pelas urnas, o assumiu. Porém, aos poucos, foi incorporando ao esquema vigente iniciativas que elevavam o padrão de consumo da parte desprovida da sociedade.
A ampliação das transferências de renda por meio do programa Bolsa Família, a criação do crédito consignado e os aumentos reais e regulares do salário-mínimo constituíram o tripé fundamental da inflexão popular. O resultado melhorou a vida da maioria pauperizada sem confrontar os fundamentos da ordem neoliberal.
No longo prazo, uma pletora de contradições caracterizou o que chamamos de “reformismo fraco”. Para lembrar algumas: o aumento da capacidade aquisitiva dos trabalhadores não foi acompanhado de melhoras equivalentes na provisão pública de saúde, educação fundamental e média, transporte e segurança. O maior acesso ao diploma universitário não teve equivalente em bons empregos, em geral vinculados, direta ou indiretamente, ao dinamismo da produção industrial. As festejadas escolhas do Brasil como sede da Copa e das Olimpíadas ameaçou inúmeras comunidades, afetadas por obras de infraestrutura padrão FIFA.
Na esfera eleitoral, o reformismo fraco, no entanto, provocou decisivo realinhamento, com os pobres aderindo em massa ao lulismo, enquanto as camadas médias se agrupavam em torno do PSDB (Partido da Socialdemocracia Brasileira – partido de Cardoso, polo dominante do centro à centro-direita, a despeito do nome). Até 2014, o modelo foi chancelado nas urnas, garantindo quatro vitórias seguidas para o PT (Partido dos Trabalhadores) na disputa presidencial. No momento de auge, um sonho rooseveltiano de mudança sem conflito conquistou múltiplos corações e mentes.
“O lulismo foi chamado de volta para gerir as ruínas que sobraram (…) mas o andamento das transformações é lentíssimo”
André Singer e Fernando Rugitsky
Daí em diante, por razões cuja explicação não cabem aqui, um conjunto de insatisfações, tanto em andares superiores quanto inferiores, se fizeram notar, e as instituições começaram a ferver. Do Judiciário emergiu uma gigantesca onda, a qual retomou facetas dos protestos de junho de 2013, movida pelo combate ao espectro da corrupção. O PSDB, faminto de poder, se rebelou contra os preceitos constitucionais, contribuindo para um impedimento ilegítimo. Entidades empresariais, unidas contra Dilma Rousseff, clamaram por uma orientação econômica antipopular. O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) liderado por Michel Temer e Eduardo Cunha colocou a Câmara a serviço do impeachment sem crime de responsabilidade, sintetizando na “ponte para o abismo” – codinome recebido pelo programa ultraliberal divulgado pelo partido – o ângulo reacionário sobre os caminhos a seguir.
Na crise do lulismo, durante quase uma década (2015-2022) vivemos a típica reposição do atraso que estudiosos da história pátria identificaram no golpe de 1964. As esperanças de justiça social foram soterradas sob os escombros dos ganhos obtidos na fase anterior. À regressão no plano societário somou-se o retrocesso político, com os militares voltando a ambicionar a direção do Estado, prática abandonada desde a vigência da Constituição de 1988.
Expressivo contingente da sociedade, frustrado, passou a questionar não apenas o mandatário de plantão, mas as próprias regras do convívio civilizado, amplificando impulsos antidemocráticos de parcela da classe dominante. Um deputado medíocre da extrema-direita, Jair Bolsonaro, foi alçado à Presidência em 2019, colocando o Brasil em linha com as piores tendências internacionais. Após tamanha demolição, contudo, o lulismo foi chamado de volta para gerir as ruínas que sobraram.
Pontapé inicial
Vitorioso por uma margem pequena, Lula assumiu em 1o de janeiro de 2023, apresentando o slogan “União e Reconstrução”. Não deu ênfase a metas específicas para o mandato. Os discursos destacavam os objetivos genéricos de pacificar a sociedade, reduzindo o clima de ódio que marcou o período anterior, combater a desigualdade e retirar o país do isolamento internacional em que se encontrava. O contraste da era de bonança do lulismo com o período de crise que o sucedeu obteve posição central na campanha, relegando o aspecto prospectivo para o segundo plano.
Uma vez empossado, a prometida pacificação foi buscada, sobretudo, no vínculo com o capital e o Legislativo, dominado por forças conservadoras. A heterogênea representação do campo à esquerda do centro costuma não passar de 30% da Câmara e, desde o primeiro mandato, Lula buscou formar coalizões com partidos de todo o espectro, abrindo o leque de opções até a direita. Entre 2018 e 2023, contudo, a extrema-direita passou a ter presença no Legislativo. O Partido Liberal (PL), que hoje abriga Bolsonaro, elegeu a maior bancada da Casa, com 99 deputados, em 2022. De certa maneira, o espaço obtido pela opção conservadora radical se deu em cima da perda de substância do PSDB, que tinha 70 cadeiras em 2003 e agora reduziu-se a 13. Porém, vale observar que o próprio PT, com 68 postos, diminuiu em relação ao período áureo (2002 – 2010), quando chegou a eleger 91 dos 513 membros da Câmara dos Deputados.
A aparição da extrema-direita reduziu a margem de manobra do lulismo, uma vez que se trata de um setor menos permeável à cooptação. O que não implica, necessariamente, porém, uma pressão maior por uma política fiscal austera. Na realidade, todo o campo da direita mantém vínculos com a burguesia, oferecendo acesso privilegiado ao fundo público e resistindo a medidas de ampliação da tributação. Mas não costuma assumir protagonismo na defesa da austeridade, uma vez que a própria sobrevivência é estreitamente relacionada com a utilização dos recursos orçamentários.
Ao ceder aos apelos por austeridade, o governo respondia menos à correlação de forças parlamentar do que à intenção de pacificar seu vínculo com o capital. Com o arcabouço fiscal – verdadeiro plano econômico de governo –, que analisaremos a seguir, atendeu aos capitalistas. Além do arcabouço, o Executivo articulou a aprovação legislativa de uma reforma tributária modernizadora que vinha sendo debatida há trinta anos, recebendo extensos elogios empresariais. Alvo de interesses regionais contraditórios, o novo regime arrecadatório transfere para um único Imposto de Valor Agregado (IVA) uma variedade de taxas federais, estaduais e municipais. Com o voto contrário apenas da extrema-direita, a versão final foi finalmente aprovada pelo Congresso em 15 de dezembro passado, tornando-se o trunfo dos primeiros doze meses. Quatro dias depois, a Standard and Poor’s elevou a nota do Brasil nos mercados internacionais.
Nesta reentré da temporada lulista, Lula delegou a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, o papel de fazer as concessões exigidas pelo capital, reservando-se o rol de buscar as brechas por onde precisam passar as necessidades do povo. Ainda em dezembro de 2022, após driblar a pressão austeritária, habilmente indicando o vice-presidente Geraldo Alckmin para presidir a equipe de transição, Lula conseguiu aprovar uma folga de R$145 bilhões no Orçamento de 2023, com a chamada PEC da Transição. Dessa maneira, evitou espremer as transferências de renda e o programa Farmácia Popular.
A inteligência da jogada consistiu em estabelecer uma negociação direta com Arthur Lira, o poderoso presidente da Câmara, que vinha operando o chamado “orçamento secreto”. Esse mecanismo, consolidado sob Bolsonaro, estabelecia que o chefe da Casa dispunha de algo como R$20 bilhões de reais para distribuir entre emendas dos parlamentares – em geral destinadas a obras na circunscrição do deputado ou deputada – sem necessidade de tornar transparentes tais aportes. Apoiado na condição de recém-eleito e numa decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou o referido mecanismo inconstitucional, Lula trocou o apoio à reeleição de Lira em 1º. de fevereiro de 2023 como presidente da Câmara pela aprovação da PEC da Transição e um pacto mediante o qual, na prática, as “emendas de relator”, nome de fantasia do orçamento secreto, passariam a ser negociadas, digamos, caso a caso com o Executivo daí em diante.
Com isso, já no dia da posse, Lula pode editar a Medida Provisória (MP) que ampliava o Auxílio Brasil e, em março, lançou o Bolsa Família 2.0, com o mínimo de R$600 reais por lar beneficiado, ao que somou R$150 por filho de até 7 anos. Compensou, assim, a lealdade da base subproletária e blindou-se da rápida queda de aprovação que vêm fragilizando inícios de mandato progressistas na América Latina. Destarte, não se deve subestimar a relevância do que parte da imprensa, ecoando a resistência das elites, nomeou de “PEC da Gastança”.
Mas deve-se assinalar que, dentre as contrapartidas obtidas por Lira, o percentual destinado às emendas obrigatórias dos parlamentares aumentou de 1,2% para 2% das receitas correntes líquidas, reforçando a tendência de fortalecimento parlamentar, que cresce pelo menos desde que Eduardo Cunha, pivô da derrubada de Dilma, chefiou a Câmara. Durante o reinado de Rodrigo Maia, sucessor de Cunha à frente da Casa, falava-se de parlamentarismo branco, o qual durou até a ascensão de Lira, com apoio de Bolsonaro.
Em suma, a Câmara seguia acumulando poderes, processo que não cessou durante 2023, a ponto de alguns argumentarem que o regime, na prática, deixou de ser hiperpresidencialista para se tornar semipresidencialista.[1] Tal viés reduz a margem de manobra lulista, que agora precisa preservar a peça orçamentária não apenas da pressão dos que desejam austeridade, mas também do avanço do fisiologismo parlamentar.
Um arcabouço paralisante
Conforme mencionamos acima, do ponto de vista das classes, a pressão dos capitalistas foi atendida no chamado arcabouço fiscal lançado no fim de março. Formulado pelo Ministério da Fazenda, o regime fiscal de Lula 3 foi apresentado como um substituto, mais flexível, para o teto de gastos que havia sido colocado na Constituição em 2016 por iniciativa de Michel Temer (2016-2019). Dada a ausência de economistas tradicionalmente associados à teoria macroeconômica convencional na equipe de Haddad, a timidez da proposta provavelmente não decorreu de convicções teóricas, mas de um acordo com a fração cosmopolita do capital, que optou por Lula no segundo turno de 2022. Embora haja poucos relatos sobre os bastidores de tal operação, é plausível imaginar que o próprio ministro tenha costurado os termos do pacto, depois chancelado por Lula.
Revelou-se, então, um plano que, na prática, colocava o reformismo fraco em marcha lenta. Ao contrário do teto de gastos, que congelava as despesas em termos reais, a nova regra permitia o crescimento do dispêndio, desde que as receitas tributárias se expandissem, também. Ocorre que tal aumento foi limitado a 70% dos ganhos na receita, respeitado, nota bene, um máximo de 2,5% de expansão anual dos gastos públicos.
Assim, forçando as despesas a crescerem mais lentamente do que a arrecadação, a norma proposta seguiu embutindo uma redução gradual do tamanho do Estado, a exemplo da famigerada lei anterior. Como bem notou o economista Pedro Paulo Bastos, a proposta sequer é compatível, ao longo do tempo, com valorização efetiva do salário-mínimo que acompanhe o PIB e com a manutenção dos pisos constitucionais da educação e da saúde. Se as contradições típicas do lulismo implicavam problemas no longo prazo, agora o próprio curto prazo ficava ameaçado.
As concessões à Faria Lima foram mais longe. O Executivo comprometeu-se com um arrojado ajuste (colocado em dúvida pelo próprio presidente no final de outubro), estabelecendo meta de déficit primário zero em 2024 e superávits de, respectivamente, 0,5% e 1,0% do PIB no biênio seguinte. Considerando que o déficit em 2023 deve superar 1% do PIB, zerá-lo representaria um corte expressivo, superior ao realizado na encarnação lulista inicial (2003), cujo impacto foi um dos elementos que acabou por levar à criação do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade).
O discurso oficial esforça-se por atenuar o caráter austero do plano, argumentando que o ajuste não recairá, como é hábito, nos gastos, mas nas receitas, em particular ao incluir os ricos na tributação. Com efeito, providências positivas foram tomadas: a tributação de fundos de investimento exclusivos e offshore, a mudança da regra sobre o voto de confiança no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), o que dá maior poder ao Executivo nos contenciosos tributários com empresas, a chamada MP das subvenções, uma medida provisória que busca atenuar a erosão da capacidade arrecadatória do governo, e a revisão dos chamados gastos tributários, na maior parte subsídios e benefícios fiscais concedidos a setores específicos.
É verdade que o bom trânsito na Câmara, da qual dependeu a aprovação de tais itens, implicou mais concessões à maioria conservadora, resultando na aliança com o Partido Progressista (PP), antigo bastião da direita que apoiou a ditadura militar de 1964, e o Republicanos, agremiação criada pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), gigante neopentecostal que se aliou a Bolsonaro. Em setembro, ambos ingressaram no ministério de Lula 3, ocupando respectivamente a pasta de Esportes e Portos e Aeroportos, sem contar outros cargos no segundo escalão. Com isso, em teoria, a base governista teria ultrapassado o quórum de 3/5 da Câmara, necessário para aprovar emendas constitucionais. Sem tal número, considera-se que o presidente pode ser desestabilizado numa conjuntura adversa. Na realidade, entretanto, dado o caráter gelatinoso dos partidos, o relacionamento com a Casa seguirá pautado pelo irrestrito toma-lá-da-cá, sem uma garantia de segurança.
Seja como for, o lado avançado do arcabouço é extremamente bem-vindo, pois atua sobre a regressividade do sistema tributário brasileiro, sobretudo se vier acompanhado de uma reforma da taxação sobre a renda e o patrimônio. Ademais, a redução do déficit via aumento de impostos sobre os ricos tende a ser menos nociva ao crescimento do que o corte de gastos. No entanto, no melhor cenário, isso apenas reduzirá a austeridade, sem revogá-la. A razão de fundo para o caráter paralisante do arcabouço está no limite de 2,5% de aumento dos gastos públicos. Ainda que se logre obter receitas advindas de taxações inéditas, de modo a abrir espaço para elevar as despesas, a barreira colocada representa um freio inexistente nas experiências lulistas anteriores, independentemente da meta de déficit acordada.
Os números a seguir falam por si. Entre 2003 e 2010, os gastos primários como proporção do PIB aumentaram de aproximadamente 15% para 18%, criando as condições para implantar o programa Bolsa Família e valorizar o salário-mínimo 66% em termos reais. De acordo com simulação realizada pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (MADE) da Universidade de São Paulo, contudo, se o arcabouço tivesse sido adotado em 2003, os gastos do governo não teriam aumentado, porém diminuído para 11% do PIB. Por isso, o lulismo, nesta terceira exibição, projeta-se em câmara lenta.
O contraste com o passado é nítido. Ao se observar a taxa de crescimento do dispêndio da União, vê-se que nos governos Lula 1 e 2 houve um crescimento real de 7,2% ao ano. Trata-se de um ritmo quase três vezes mais rápido do que aquele permitido, na melhor hipótese, pelo arcabouço. Mesmo durante FHC 2 e Dilma 1, os gastos cresceram duas vezes mais rapidamente do que o previsto pelo arcabouço.
O debate aberto por Lula sobre o resultado primário para o próximo ano, como veremos abaixo, é importante para evitar que em 2024 ocorra um colapso das funções estatais. Mas não altera o fato de que as possíveis brechas abertas pela tributação dos ricos – em si mesma justa e progressista – se mostram aquém das existentes no lulismo tradicional. As margens de manobra ficaram tão apertadas que praticamente bloqueiam a passagem do bloco popular pela avenida.
Reflexos políticos
Seria plausível argumentar, contudo, que o crescimento de cerca de 3% ao ano observado em 2023 contraria a ideia de um lulismo slow motion. O problema é que não estamos vivendo, ainda, sob os efeitos restritivos do arcabouço. A presente aceleração deveu-se, em parte, aos gastos ocorridos em 2022 – fruto do uso que Jair Bolsonaro fez do orçamento como instrumento eleitoral –, somados àqueles viabilizados pela PEC da Transição, conforme mostramos acima, e, por fim, à bonança agrária trazida por uma safra recorde em 2022-2023.
Com o regime fiscal ora proposto, esse impulso governamental será abandonado, o que explica a citada declaração de Lula, em outubro, segundo a qual o déficit “não precisa ser zero”. Cumprindo o script autoatribuído, o presidente desagradou o mercado em busca de ampliar as brechas disponíveis. Depois que Lula dixit, a bolsa caiu e o dólar subiu. O capital cobrava o compromisso com a austeridade e, por enquanto, o governo cedeu, mantendo a meta inalterada. A disputa continua, no entanto, com o PT assumindo o protagonismo da crítica à austeridade, sendo possível que a meta se veja substituída no próximo ano. Caso aconteça, irá se reduzir a magnitude do ajuste e será menor o efeito negativo da política fiscal restritiva sobre a renda. Porém, será suficiente?
Comparado ao chileno Gabriel Boric, que teria perdido 22 pontos percentuais de aprovação no primeiro ano de governo (Folha de S. Paulo, 11/02/2023), e ao colombiano Gustavo Petro, cuja aprovação teria recuado 23 pontos percentuais no mesmo período (Rádio France Internacional, 07/08/2023), Lula teve queda de apenas 11 pontos percentuais, entre a expectativa favorável de 49% no início do mandato e a aprovação de 38% em 5 de dezembro (Datafolha). Isto é, diante de uma nação que segue polarizada, o petista logrou não despencar, embora esteja algo abaixo da marca que alcançou tanto em dezembro de 2003 (42%) quanto, sobretudo, em dezembro de 2007 (50%), ao fim do ano inicial do primeiro e do segundo mandatos.
Vale a pena, também, observar as opções estratégicas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no México. AMLO, geralmente associado à centro-esquerda, ainda que tivesse atitudes inesperadas durante a pandemia, combina contenção fiscal com redistribuição de renda, logrando, até aqui, alta popularidade. As previsões atuais sugerem que o presidente elegerá a sucessora no pleito deste ano. AMLO defende o que chama de austeridade republicana, pela qual busca restringir o controle privado dos recursos públicos, e tem se esforçado para aumentar a tributação dos mais ricos. As semelhanças com a retórica de Haddad contra o patrimonialismo e com as mencionadas propostas tributárias brasileiras podem não ser coincidência.
No entanto, AMLO governa com uma flexibilidade não permitida pelo arcabouço. O primeiro ano de seu mandato, ainda antes da pandemia, foi marcado por uma política fiscal expansionista que, em 2020, intensificou-se substancialmente. Embora, os três anos seguintes tenham sido marcados por ajuste das contas públicas, a expectativa atual é que o superávit primário apresentado em 2023 se transforme em déficit neste ano eleitoral.
Na verdade, tais resultados escondem mudanças na composição do gasto público. O Progresa, tradicional programa de transferência de renda mexicano – celebrado pelo Banco Mundial e visto com suspeita em muitas periferias do país (por conta de condicionalidades rígidas e da definição de beneficiários, acusada de ser arbitrária) – foi substituído por programas de transferência universais, expandindo o número de beneficiários. Em outra frente, o governo aumentou o salário-mínimo significativamente e reforçou direitos trabalhistas, é verdade que financiando tais medidas com cortes no funcionalismo público.
Independentemente dos limites das opções de AMLO, elas mantiveram a economia mexicana crescendo acima de 3 por cento ao ano desde 2021, após a pandemia, o que sem dúvida contribuiu para a persistente popularidade presidencial. A austeridade republicana de AMLO foi, do ponto de vista macroeconômico, menos austera do que o que se anuncia para o Brasil, aproximando-se mais da experiência do lulismo original do que de sua versão desacelerada. Em contraste, a relativa estabilidade na aprovação de Lula até aqui será agora confrontada com a economia em desaceleração.
A expectativa das instituições financeiras é de que o crescimento do PIB em 2024 deverá ser em torno de 1,5% (relatório Focus de 22/12/2023). Tal previsão talvez seja pessimista demais, pois tanto o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) do Ministério do Planejamento quanto a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) projetam resultado algo superior. No entanto, a visão comum é de baixa com respeito a 2023.
O Planalto sabe que o feel good factor é fator chave em anos eleitorais. Daqui a dez meses, filtradas as idiossincrasias locais, vai se aferir o estado de espírito da população a partir dos prefeitos e vereadores eleitos. Uma derrota em colégios de grande visibilidade criará um clima ruim para a largada da eleição presidencial de 2026. Daí decorre a luta das últimas semanas em torno do arcabouço, sem contar que os parlamentares seguem pressionando por suas emendas e minando a capacidade arrecadatória do governo, especialmente com a prorrogação das desonerações.
Se focarmos em São Paulo, que costuma decidir a avaliação do ganha-perde municipal, há chance de disputa acirrada. A boa campanha de Guilherme Boulos (PSOL) em 2020 e a vitória de Lula em 2022 no perímetro da cidade dão perspectivas promissoras ao lulismo em território paulistano. Por outro lado, o tradicional conservadorismo existente nos estratos médios locais faz prever uma candidatura competitiva no campo direitista. Neste cenário, a economia pode fazer a diferença entre a turma do meio, que costuma decidir o pleito.
Em outra dimensão, cabe ter em conta que as incertezas da dinâmica global são enormes. Graves tensões geopolíticas, finanças descontroladas e eventos climáticos extremos tendem a criar turbulências que repercutem na periferia. É verdade que, desde o final de 2022 as taxas de inflação observadas nos EUA, na zona do Euro e no Reino Unido têm caído e os juros devem acompanhar, reforçando o efeito da queda em curso dos juros brasileiros. Com sorte, criar-se-á alguma possibilidade de recuperação da liquidez no planeta e estímulo ao crescimento ao sul do Equador.
Lula, de sua parte, segue em busca das oportunidades de desenvolvimento, sobretudo as que não impliquem confronto com a burguesia. Na área energética, por exemplo, sofreu desgaste ao não bloquear a prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas, vetada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do próprio governo. Sobrou a Marina Silva, agora ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a proteção do resto da floresta, tendo anunciado em novembro uma queda de 22% no desmatamento da Amazônia e defendido limites à produção de petróleo.
Há, igualmente, quem deposite fichas na eventualidade de uma ajuda chinesa, decorrente da crescente tensão geopolítica com os americanos. Com efeito, no plano externo Lula demonstrou uma audácia inexistente no domínio doméstico. A tentativa de favorecer uma mediação democrática na Venezuela (parcialmente empanada pelo affair Essequibo) bem como a posição independente assumida nas guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Hamas e Israel chamaram a atenção para a chance de aproveitar a bipolaridade EUA-China em benefício dos interesses brasileiros.
O empenho internacional de Lula foi tanto que pesquisas realizadas no último mês registraram críticas dos eleitores a um suposto excesso de viagens internacionais do presidente, que visitou nada menos que 24 países e permaneceu 62 dias no exterior durante 2023. Em setembro, assumiu a presidência rotativa do G20 com críticas aos “equívocos do neoliberalismo”. Talvez o objetivo seja mesmo deixar claro que não haverá alinhamento automático do Brasil, sinalizando que espera concessões, tanto do bloco americano quanto do chinês, no que se refere ao grande anseio nacional: a reindustrialização do país. Nesse sentido, até aqui, conhece-se apenas a decisão chinesa de construir uma fábrica de veículos elétricos na Bahia, ocupando espaço deixado pela Ford, que decidiu retirar-se de lá.
É improvável, contudo, que qualquer empurrão externo tenha a magnitude necessária para mover uma nação continental como a brasileira. Daí que a arrastada cadência interna do lulismo de terceira geração poderá abrir caminho para a rearticulação do campo conservador. Se Lula 1 e 2 estimulou sonhos de mudanças indolores, o atual lulismo em câmera lenta tirou a superação das mazelas históricas de cena. Alguns observadores argumentam que, na conjuntura em curso, a prioridade deve ser mesmo salvar a democracia, deixando o resto para depois. O problema é que não será viável estabilizar a democracia verde-amarela sem transformações estruturais e a versão ralentada da estratégia original não propicia sequer o antigo devaneio com elas. Trata-se, todavia, de assunto para outro texto.